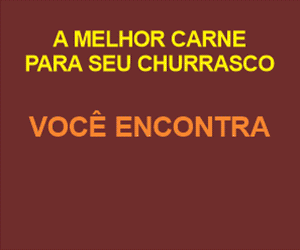Julio Pompeu (*) –
Anunciou o tapa ao levantar a mão. Conteve-se. Hesitou. Ensaiou novo tapa. Nova contenção. Respirou fundo. E mais fundo.
Ele olhava impassivo. Sereno. Sem esboço de reação. Como se não houvesse a possibilidade da bofetada. Ou como se não pudesse lhe doer na face e nem no orgulho.
A face e o orgulho são as partes mais sensíveis de debates assim. Dificilmente escapa-se sem uma vermelhidão de impacto, raiva ou vergonha. Mas a impassividade fazia dele uma figura altiva, como um sobre-humano em muito além da sensibilidade. Muito além do medo. Muito além das mesquinharias afetivas. Alguém de pura razão, certeza e verdade. Alguém, enfim, insuportável.
Era esse quê de racional insensibilidade que mais a irritava. Mais até que as tolices que dizia. Mais que a burrice que parecia exibir como virtude. Mais que a segurança típica dos completamente ignorantes temperada pela arrogância dos desprovidos de noção.
Ainda assim, ela conteve a fúria. Temia perder a razão, apesar de não aceitar bem a ideia de que alguma razão possa se perder se seguida de alguma destemperança. Como se o anteriormente dito se tornasse desdito pela fúria de um tapa.
Já ele, não tinha motivo para tais preocupações. Não há como perder o que não se tem, que nunca teve, nunca terá. Talvez, por isso mesmo, fosse tão fácil para ele agredir com palavras, gestos patéticos e até tapas ou coisa pior.
Acostumado ao veneno do ódio, sabia dosar seus atos odiosos para fazê-los parecer menos odioso. “É só a minha opinião”, dizia. Mas sua opinião era sempre sobre algo que todos deveriam fazer. E nada é mais comando e menos opinião que “todos” e “deve”. E todos sempre deveriam fazer algo contra o todo na sua “opinião”.
O todo era sempre seu alvo. Ou tudo que representasse alguma forma de todo. Alguma forma de mais de um. Defendia um individualismo que era absolutamente incompatível com qualquer ideia coletiva. Sociedade, Estado, Governo, sindicatos, partidos, não importava, estavam errados, eram ruins, criminosos, perversos, maus.
O bem, para ele, era sempre coisa do indivíduo, do sujeito de atitude, do empreendedor, do cara que faz, do homem de bem. Na prática, defendia como sendo o bem o que era apenas bom para ele. Não havia em sua mente nenhuma ideia de bem comum porque não havia espaço nela para nada comum, só para o que era privado, só para o que era ou poderia ser dele.
Ela tentou retomar a discussão quando sentiu que a raiva, apesar de ainda presente, já não ameaçava assumir o comando de suas ações. Logo deu-se conta da tolice de seu ato. Não havia como retomar o diálogo porque também não havia diálogo. Não havia sequer a possibilidade disso. Faltava vontade de se chegar a algum entendimento. Ele não queria entendimento, nem convencimento, nem diálogo, nem debate. Queria monólogo, performance. Ela, a esta altura, só queria tacar-lhe a mão na cara.
Preferiu calar-se de vez. Para, contendo as palavras, conter também a raiva. Ele ainda disse uma ou outra coisa sem muita relevância. Em parte, ainda ecoando em palavras os ruídos que ecoavam no vazio de suas ideias. Em parte, para ter a última palavra. Como se o último a falar fosse o vencedor.
Mesmo calados continuaram ali, frente a frente. Arrefecendo os ânimos com as delícias do jantar. Até se entreolhavam vez ou outra, fazendo se lembrarem dos porquês de um dia terem se casado. Até mesmo um ou outro sorriso escapou-lhes entre uma gentileza ou outra à mesa.
À sobremesa, tudo indicava que o clima ruim da conversa havia, definitivamente, mudado. No silêncio, parecia possível até se amarem.
Mal ela cortou com a colher o primeiro naco de pudim, curtindo com o doce a doçura da paz. Ele, extemporâneo e ainda mais cortante, disparou: “mas entre Lula e Bolsonaro…”
Estranho amor.
(*) Escritor e palestrante, professor de Ética do Departamento de Direito da UFES, ex-secretário de Direitos Humanos no ES.
Clique aqui para ler artigos do autor.