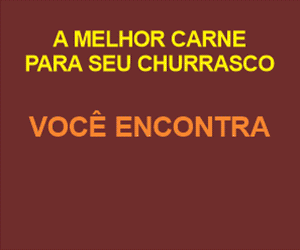Por Betty Mindlin, antropóloga e membro do Conselho Deliberativo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP
Marcelo Paiva desponta como ser grandioso no centro do Roda Viva de 23 de dezembro de 2024. Mesmo com as marcas indeléveis da tragédia familiar e pessoal, extrai de si a alegria vital para a luta por justiça, em trajetória combinada de escritor, roteirista, cineasta, jornalista, múltiplos dons de arte e feitos. É de uma simpatia encantadora, no olhar arguto ao acolher as perguntas dos entrevistadores. Como sua mãe, combativo e hábil, nunca dogmático, sempre firme. Lembra expositores e/ou expositoras como Orlando Villas Boas, Darcy Ribeiro, Ana Maria Gonçalves, Ailton Krenak, caudal de fala magnética arrastando ouvintes – quase uma gafe interromper sua densidade.
Eunice Paiva tornou-se um ícone da resistência à ditadura (1964-1985) com o belo livro de Marcelo de 2015, e com o filme magnífico de 2024, ambos com o título Ainda estou aqui. Entre muitos temas, em cenas breves, ali aparece a magnitude de Eunice jurista em defesa dos povos indígenas. No livro, Marcelo se estende mais que seu amigo cineasta Walter Salles sobre o currículo da mãe na aliança com indígenas.
A história profissional de Eunice com os povos e direitos indígenas poderia – e deveria – ser objeto de um livro em si, ou de um filme. Mas há um episódio que nunca vi por escrito, do qual participei, e que, no caso de Eunice, poderia ser um emblema da causa indígena, dado o feliz alcance nacional e internacional de Ainda estou aqui.
Eu ousaria chamar o episódio de “O oposto do 8 de janeiro de 2023: empurrando a porta de vidro do Palácio do Planalto”.
Eunice Paiva foi a jurista do conselho administrativo da Fundação Mata Virgem (FMV), de 1989 a 1992, e até 1994 do conselho consultivo.
Em 10 de janeiro de 1990, um grupo de ativistas, estudiosos, artistas e indígenas foi em comitiva ao Palácio do Planalto. Há tempo exigiam do presidente Sarney uma audiência para reivindicar a demarcação de 4.938.100 hectares das terras Kayapó Mekranogti. O cantor Sting, fundador da Rainforest Foundation, parceira da FMV, prometera pagar os custos da demarcação com a renda de seus shows, embora esse fosse o dever do Estado brasileiro. Os manifestantes eram Eunice Paiva, Raoni Metuktire, Sting, Gilberto Gil, Rita Lee, Roberto de Carvalho, Arnaldo Antunes, Olympio Serra, então presidente da Fundação Mata Virgem, Megaron Metuktire, diretor do Parque Nacional do Xingu, Jorge Terena, da União das Nações Indígenas, mais representantes do Conselho da FMV, como Carmen Junqueira, André Villas Boas, Roberto Baruzzi, Sidney Possuelo, Walter Alves Neves e eu mesma, como conselheira da FMV e, mais tarde, da Rainforest Foundation.
Apesar de marcada a audiência, que não seria concedida por Sarney e sim pelo chefe do gabinete civil, parecia impossível entrar no Palácio, fomos barrados e barradas.
Não admitimos a proibição e, unidos, empurramos a porta de vidro. Os funcionários de segurança, pasmos de ver grandes artistas solicitando com respeito a entrada, mas forçando o vidro, mais de forma simbólica que efetiva, acabaram cedendo, nos deixaram passar, cada vez uns poucos, por fim todos; Sarney foi obrigado a fazer o mesmo. Lembro nitidamente de estar junto com Rita Lee, Roberto de Carvalho e Gilberto Gil, associada a suas fortes mãos ao tocar a cancela do Poder Executivo.
Eunice, a caminho da sala de Sarney, afirmava que não entraria – como dar a mão a quem se aliara aos responsáveis pelo assassinato de Rubens? Foi persuadida a nos acompanhar, jurista ponderada capaz de argumentar e comprovar o direito às terras reivindicadas pelos Kayapó. Sarney prometeu, mas a demarcação demorou muito a ser realizada. Foi homologada pelo presidente Itamar Franco em 1993.
Depois do 8 de janeiro de 2023, o gentil empurrão na porta de vidro de 1990, ousadia de um movimento social, artístico, de nossos povos indígenas, anteriores ao estado nacional, pela igualdade, clima e respeito, assume o significado do presente. É o paradigma oposto ao golpe contra a eleição de Lula, na forma de abrir o portão e o portal do governante pelo cumprimento da lei.
Necessário para a visibilidade do movimento indígena, com a insígnia da seguidora fiel Eunice Paiva.
É curioso que esse gesto tão simbólico não tenha sido escrito ou falado por nenhum dos participantes. Rita Lee não o menciona em sua tão boa autobiografia. Não sei se Gilberto Gil ou Arnaldo Antunes, se é que este esteve também, lembraram em algum momento – poderia ter virado hino. Com eles dois está em tempo. Dr. Roberto Baruzzi, defensor magistral da saúde indígena, já se foi. Eu, tão impressionada com o evento, nunca escrevi. Contei muitas vezes em conversas. No velório de Eunice, comentei com Veroca, e ela me fez contar à TV Globo. Não sei se foi ao ar. Eu me sinto com o peso de ser guardiã e testemunha única, enquanto não consigo que outros relembrem e que ouça se têm o mesmo espanto que eu.
***
A primeira lembrança que tenho de Eunice Paiva é de fevereiro ou março de 1971, quando ela vinha ao hospital visitar meu tio Henrique Mindlin, que acabou falecendo em julho. Rubens Paiva desaparecido, nada se sabia sobre ele; compartilhávamos duplo desespero, por causas tão diversas. Tio Henrique era cunhado de Baby Bocayuva Cunha, irmão de tia Vera. Penso que foi assim que se tornou amigo de Rubens e Eunice. Todos moravam no Rio. Não sei se meus pais chegaram a conhecer Rubens, mas a Eunice ligaram-se há muitas décadas.
A proximidade de meus pais e minha com ela, e mais tarde com as quatro filhas e filho, aumentou quando se mudaram para São Paulo, e ela se fez advogada. Meus pais a incluíram em seu círculo de amizades e viam-se com frequência. Marcelo é amigo de minha irmã Sonia, tocava violão com ela em casa de meus pais, os dois estudaram no Colégio Santa Cruz.
Na Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP), fundada em 1978, a presença de Eunice era marcante. Foi em casa de Eunice que conheci Ailton Krenak, talvez nesta época. Eunice insistia em me apresentar a “um rapaz brilhante, excepcional, indígena de Minas Gerais”. A CPI-SP era o centro de debates, parcerias, figuras indígenas, aula para a antropóloga aprendiz que eu era, seguidora de Carmen Junqueira.
Entre 1983 e 1987, Eunice fez parte como jurista de uma equipe de consultores encarregados de avaliar a situação indígena dos povos afetados pelo Programa Polonoroeste (1983-1987). Eu era a coordenadora da avaliação na Fipe-USP, a instituição universitária a nos contratar e prover recursos para as viagens aos povos indígenas. O Programa Polonoroeste tinha financiamento parcial do Banco Mundial e contrapartida do governo brasileiro, e destinava-se à pavimentação da rodovia BR-364, Cuiabá-Porto Velho, e a projetos de colonização. Compreendia uma pequena parcela a ser paga pelo Brasil, destinada aos povos indígenas e ao ambiente, impactados e degradados pelo projeto. Cláusula mínima conquistada por antropólogos-raridade no banco, como Robert Goodland, e ativistas. Parcela insuficiente diante os objetivos econômicos do Polonoroeste, idealizado como se a região fosse inabitada, se não existisse terra ancestral indígena, demais habitantes, povos, ribeirinhos, quilombos e uma floresta e ambiente grandiosos a preservar. As grandes construtoras ditavam o sistema econômico omitindo o social. Foi no quadro dessa avaliação que Eunice fez pareceres magistrais para a causa indígena, como o que analisa a exploração madeireira ilegal nas terras indígenas, ou o parecer fundamental para a demarcação da Terra Indígena Zoró em 1987.
Com os estudos e resultados da equipe de avaliação, incluindo e transmitindo a voz indígena e suas reivindicações, mais de 30 demarcações dos 60 povos afetados foram realizadas, além da defesa de povos isolados até então ignorados. A atuação da avaliação da Fipe-USP ficou conhecida por ter, com aliança da antropóloga Maritta Koch-Weser, responsável pelo programa ambiental do Banco Mundial na região, conseguido interromper em 1985 o financiamento da instituição enquanto quatro terras escolhidas como paradigmáticas não fossem demarcadas e livres de invasões (Urueu-au-au, Zoró, IkolenGavião/ Arara Karo e Nambiquara).
Em 1985 foi publicado o livro de Eunice Paiva em coautoria com Carmen Junqueira, O estado contra o índio, publicado pela PUC-SP em 1985, tão válido hoje como então. Um estado no qual grandes interesses econômicos e concentração de riqueza são proeminentes, sem compreensão da vida indígena voltada para o coletivo ou comunitário.
Em 1987, Eunice Paiva fundou com Carmen Junqueira, Rinaldo Arruda, Mauro Leonel e eu, além de outros estudiosos, a ong IAMÁ, Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, organização não governamental que atuou até 2001 com forte centro em Rondônia e Mato Grosso e em assuntos nacionais de defesa dos direitos indígenas e criação de projetos de educação, saúde, autonomia econômica e política de muitos povos. Tivemos como generoso padrinho o professor Aziz Ab´Saber, que dirigiu no IAMÁ o plano ambiental da candidatura de Plinio de Arruda Sampaio ao governo do estado de São Paulo em 1990.
Além da parceria profissional e o ativismo contra a ditadura, a intimidade nos unia. Eunice, Carmen, Mauro e eu, por vezes com meus pais e com meu compadre Adão Pinheiro, passamos inumeráveis fins-de-semana fora de São Paulo, juntos em longas conversas, uma convivência deliciosa. Adão nunca chegou a dizer a ela, mas, como muitos outros que a conheceram, sempre a descrevia como mulher sedutora, com uma feminilidade atraente e original – traço somado à guerreira ousada e competente em seu ofício de advocacia.
No livro, Marcelo faz um bonito apanhado do currículo de sua mãe junto aos povos indígenas. A defesa dos Pataxós em 1983, em conjunto com Manuela Carneiro da Cunha, ambas atuando na Comissão Pró-Índio de São Paulo, bem como Lux Vidal, Carmen Junqueira, Dalmo de Abreu Dallari, Carlos Frederico Marés, Ailton Krenak e tantos outros. Marcelo se mostra informado sobre a situação indígena na época da ditadura. Comenta a Comissão Nacional da Verdade, depoimentos de vítimas, os genocídios no Reformatório Krenak, nos Cinta-Larga do Paralelo 11, os dos Xetás e Avás-Canoeiros. Fala do debate na TV Cultura, Eunice ao lado de Ailton, Dalmo Dallari, Sylvia Caiuby e Carmen Junqueira, uma de muitas apresentações que se seguiram. Sua atuação em defesa dos povos atingidos pela Cia. Vale do Rio Doce – era o grupo de antropólogos com a liderança de Lux Vidal, em crítica do Projeto Carajás, projeto semelhante ao Polonoroeste, as duas equipes sempre ligadas enfrentando o Banco Mundial, a Eletronorte e o governo brasileiro. Eunice representando o Brasil no Congresso Mundial das Populações Nativas em Estrasburgo, em 1984. As idas aos povos indígenas, o embate com a Funai. Indígenas e OAB, Eunice consultora da Assembleia Nacional Constituinte em 1988. No filme, pinceladas sobre seu papel, como sua parceria com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, uma das mais proeminentes brasileiras na defesa de indígenas.
Não seria possível, nem no livro nem no filme, explorar a obra completa das ações de Eunice. São no mínimo 300 povos indígenas, cada um uma saga, um enredo, uma história de costumes, línguas, enfrentamentos, resistência. Tarefa para estudiosos, há muitos arquivos e documentos, buscas a fazer com os colaboradores e instituições que Eunice assessorou. Algo, no seu caso, como o que fez Rubens Valente no livro Os fuzis e as flechas, mergulhando em cada caso e situação de um povo.
Que a versão Eunice na visita ao Planalto em 1990 sirva de estímulo. Um brasão, fogo reavivado por Marcelo Paiva e pelo filme, ela está aqui.
________________
(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)