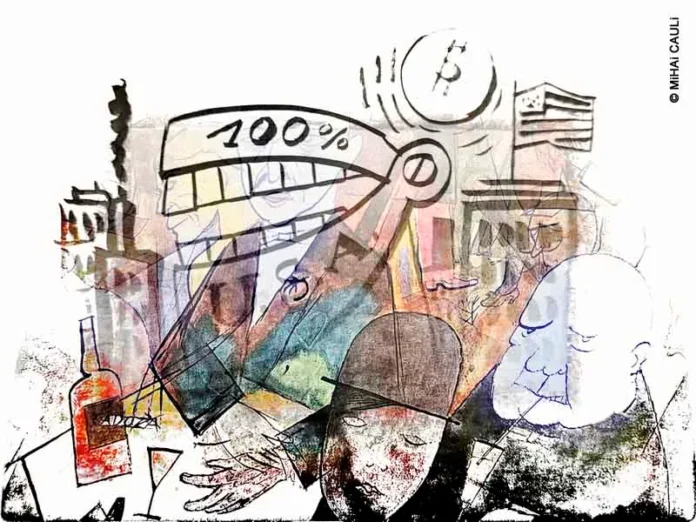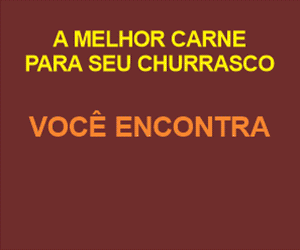Julio Pompeu (*) –
Um músico em traje de gala dedilha agilmente o enorme piano de cauda ao canto da elevação que serve de palco para pequenas apresentações. Garçons de pose elegante e gestos precisos perambulam pelo salão com bandejas e anotam pedidos com altivez e subserviência. O ambiente é de elegância discreta. Luxuoso sem extravagâncias. À entrada, uma moça mais jovem do que parece recebe os clientes com sorriso festivo.
Às vezes, o murmúrio tecido por notas de piano, vozes amenas e risos contidos é agredido pela gargalhada histriônica do deputado. Sua voz grossa e forte, quase gutural, quase grunhida, parece saída do fundo de uma fossa. Chama a atenção de todo mundo. Ele não liga. Ficou famoso assim, dizendo coisas chocantes que ornavam com sua voz. Era ainda mais chamativo quando estava animado e, naquele jantar, estava animadíssimo. Comemorava para quem quisesse ouvir a liberação da emenda milionária que bancava aquele e outros tantos jantares.
A madame da mesa ao lado não gosta do deputado. Nada contra sua moral. Acha até bom ter gente assim no poder. Gente diferenciada que vem de baixo e que, por dinheiro, faz o que gente como a madame quer. Ela não gosta é de sua figura, de sua voz, de sua presença. Destoa da estética refinada daquele lugar. Seu mundo é de harmonia estética construída com dinheiro herdado de gerações de ricos e trabalho mal pago de gerações de pobres. Entre um gole e outro de Chatêau de Beaucastel, lamenta que a elite política não tenha, ao menos, a polidez dos garçons.
A mesa central foi tomada por engravatados jovens cheios de estrangeirismos. Comemoravam os ganhos financeiros rápidos feitos com especulação e preconceitos econômicos, nos quais nada que é bom para pobre é bom para a economia e tudo que é bom para os outros países e ruim para o Brasil é bom para eles.
Bem entre a mesa central e a mesa da madame, amigos industriais, entreouvindo o papo quase em inglês dos jovens financistas, rangiam algum desprezo por aqueles garotos que ganhavam dinheiro sem produzir nada. “E os juros!”, diziam entre lamentações. Ressentiam-se do comunismo do Brasil, que distribui dinheiro em programas sociais e encarece a mão de obra da indústria. “Assim não dá!”, concordam. Problemas cujas lembranças mal estragam as comemorações do jantar pelos subsídios ganhos do governo.
A família abastada da mesa no extremo oposto à do deputado rivaliza em volume de voz com o parlamentar. O sotaque do interior é pronunciado com proposital exagero. Marca distintiva da riqueza agrária. Olha os demais daquele restaurante com a certeza de que são eles quem garantem a riqueza de todos os outros. Do país inteiro. “Sem minha soja, esse país não é nada”.
Uma única pessoa jantava sozinha. Mais de 60 anos, forte, com um paletó de corte inglês bastante refinado, mas encaixado no corpo com algum desleixo. A camisa desabotoada à gola e a gravata frouxa e torta. Bebia mais do que comia. Calado. Até que bateu o copo à mesa, derramando o uísque e gritando a plenos pulmões encatarrados: “filhos da puta!”.
Todos se calaram. Cada um fez sua própria cara de espanto, procurando demonstrar exagerada indignação, sem perder a afetação. O homem olhava raivoso em volta, como que desafiando o ambiente. “Filhos da puta!”, repetiu ainda mais alto.
Os garçons continuavam seu trabalho com espetacular indiferença. Espantava não haver em nenhum deles qualquer aparência de dúvida sobre aquela ofensa. Estavam certos de que aquilo não era com eles.
Já os comensais, cada um sentiu-se aviltado por aquele grito. Violência contra a pose de superioridade que cada um se esforçava por manter. Ainda mais ofensiva porque no fundo do fundo das entranhas de seus espíritos apequenados de soberba, sentiam que admitir que aquele “filho da puta” era com eles, com cada um deles, era a única e verdadeira dignidade que ainda lhes restava.
(*) Escritor e palestrante, professor de Ética do Departamento de Direito da UFES, ex-secretário de Direitos Humanos no ES.
Clique aqui para ler artigos do autor.